Entre o fim melancólico de Succession e a estreia em longas-metragens com Mountainhead, Jesse Armstrong troca o tabuleiro corporativo da mídia pelo bunker gelado da elite tecnológica. Aqui, o riso é mais seco e o horror é tanto conceitual quanto palpável. Filmado e lançado em seis meses pela HBO Max, o longa foi indicado ao Emmy 2025 na categoria de Filme para a TV e assume sua própria urgência como gesto político e satírico. Não por acaso, Armstrong reencaixa esse pânico numa linhagem que vai do existencialismo sintético de Blade Runner ao ceticismo de Matrix.
É impossível dissociar a escolha de Armstrong da época em que vivemos. Um mundo saturado de deepfakes, onde CEOs falam em colonizar Marte e fazer upload da mente para a nuvem com a mesma naturalidade que pedem um latte. A estreia na direção é menos um exercício de estilo e mais um exame clínico da tecnocracia, feito com câmeras instáveis, zooms intrusivos e um senso de proximidade desconfortável que nos deixa como um algoritmo de vigilância.
O filme se passa quase inteiramente na mansão de Souper, um bunker de vidro e concreto onde quatro bilionários da tecnologia debatem, barganham e tentam justificar moralmente o caos que eles próprios criaram. É um bottle movie que transforma a limitação espacial em instrumento narrativo em que as paredes e janelas panorâmicas não abrem para o mundo, mas o enquadram como um objeto distante, sem cheiro e sem calor. A arquitetura é também engenharia de afetos, a neve do lado de fora é emocionalmente estéril e governa aquelas mentes e corações.
A direção de arte entrega interiores minimalistas e sem alma, roupas de luxo silencioso e paisagens enquadradas como telas de bloqueio. É o modernismo estéril elevado a manifesto ideológico. Eliminar o supérfluo até eliminar a humanidade. Se Blade Runner tingia a angústia de néon e chuva, Mountainhead a refrigera em branco e vidro; se Neo Genesis Evangelion fazia do subsolo um útero tecnológico, aqui o abrigo é vitrine. Nicholas Britell reforça essa desolação com uma trilha que mistura cordas dissonantes e sintetizadores graves, sem espaço para emoção. É o som de um sistema que funciona perfeitamente para quem está dentro e destrutivamente para todo o resto.
Venis Parish é o visionário ambicioso, que trata a ideia de aprimoramento humano com tecnologia (pós-humanismo) como se fosse um novo produto a ser lançado no mercado. Randall Garrett é o mais velho do grupo, que age como uma figura paterna, mas está mais preocupado com seu medo pessoal da morte do que com qualquer crise nos negócios. Jeff Abredazi é o novato com um resto de bússola moral, mas que é esperto o suficiente para usar sua aparência de ética para ganho próprio. E Hugo Souper Van Yalk é um carente desesperado para ser aceito por ser o mais pobre da turma, com só 500 milhões na conta.
Essa coreografia de egos inseguros performa imitações, indiretas, diretas, tudo enquanto se aliam conforme o lucro exige, mas não compartilham nada que possa ser chamado de afeto. Essa ausência é deliberada. Armstrong retira qualquer possibilidade de identificação emocional para expor a frieza maquinal que define a elite tecnológica. Quando a trama escala para uma tentativa de homicídio caricata — com direito a gasolina empurrada com um rodo — a metáfora se fecha: deuses digitais são, no mundo físico, tão abaláveis quanto qualquer um, lembrando incidentes no mínimo ridículos do Vale do Silício.

O centro da crise é a Traam, uma IA capaz de gerar deepfakes quase indetectáveis, espalhando desinformação até que a própria ideia de verdade se desintegre. O colapso não vem com explosões, mas como notificações irritantes de iPhones. Venis, impassível, chama o caos de pequenos contratempos e compara o pânico global ao susto dos primeiros espectadores de cinema. Em termos de imaginário, Armstrong nos joga no deserto do real de Matrix. Quando todo mundo pode editar o mundo, a realidade vira interface.
Randall é a linha direta com o transumanismo. O doente terminal vê no upload de consciência não um ideal coletivo, mas um salvo-conduto pessoal para escapar da condição humana. A ambição lembra o projeto de instrumentalidade de Evangelion, a dissolução dos contornos individuais em nome de uma transcendência que promete cura às feridas do eu. Aqui, privatizada. E ainda encontra um eco em Pantheon, onde o upgrade da mente vira ativo corporativo. Venis é seu cúmplice filosófico, defendendo o longoprazismo como justificativa para ignorar o presente em nome de um futuro hipotético — a pílula vermelha.
Ao contrário de outras obras eat the rich como O Menu, Triângulo da Tristeza e Parasita, não há punição final nem retribuição moral. Depois da violência, o grupo recalibra seus acordos, exclui o que é obsoleto e segue mais forte. É a vitória da justiça e da otimização sobre a ética. Em vez da bala de Matrix ou do lampejo de empatia que por vezes atravessa os replicantes, Armstrong mantém tudo no terreno do A/B test: se dói, versiona-se; se pega mal, pivota-se. Resta saber se o diretor manterá sua prateleira de Emmys atualizada a cada ano, ou se os concorrentes de outros streamings vão levar essa.
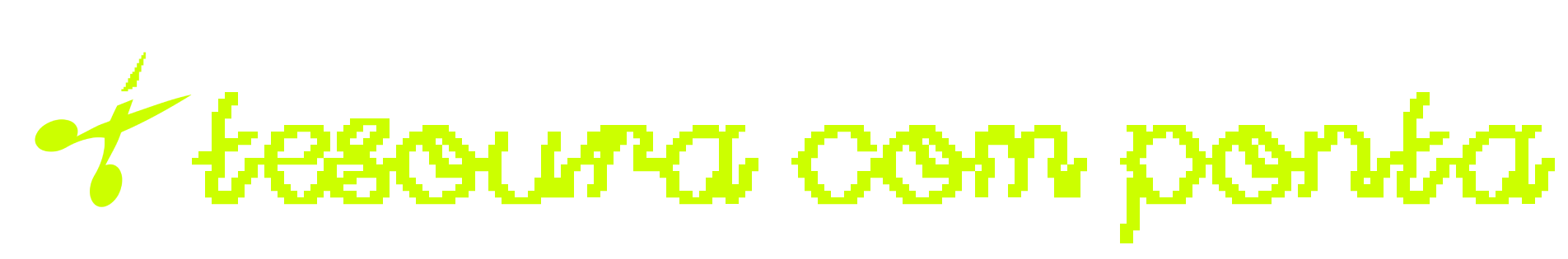

Deixe um comentário